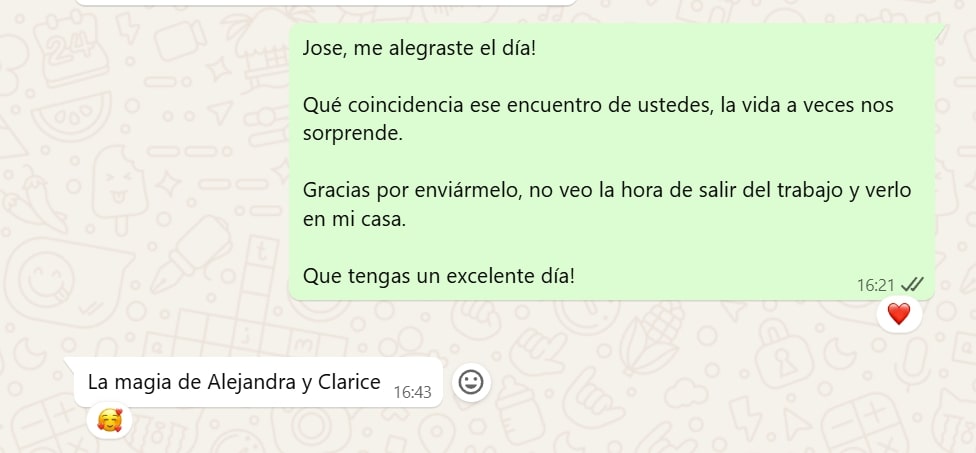Alejandra Pizarnik meets Death Cab for Cutie
Ausência, memória e linguagem como vertigem: quando Pizarnik e Death Cab se encontram na estética da perda.
Num dia que amanheceu cinza, decidi dar uma causada na hora seguinte ouvindo o disco Transatlanticism, da banda Death Cab for Cutie, a caminho do trabalho. É um dos meus discos preferidos, mas do qual me afastei nos últimos anos. Ou melhor: evitei. Quem conhece sabe que não é exatamente uma trilha animada, e, quando há memórias difíceis associadas, a audição fica ainda mais densa. Mas naquele dia, com aquele céu fechado, parecia a trilha sonora ideal. As nuvens sussurravam melancolia.
Minha música favorita do álbum é “Title and Registration”. Sempre foi, desde a primeira vez que ouvi. Tive a sorte de vê-los ao vivo em 2018, e quando tocaram essa, lembro de segurar algumas lágrimas.
O que mais me encanta nas composições do Ben Gibbard é o quanto são visuais. Consigo ver o que ele viu, sentir o que ele sentiu. Eu nem tenho carro — na real, nem sei dirigir. Mas quando essa música começa, estou no banco da frente, abrindo o porta-luvas, revirando papéis atrás da minha habilitação ou do seguro… sei lá (que documentos tem um carro?).
Posso não ser motorizada, mas compartilho com essa música certos territórios internos: arrependimentos, um coração que já foi partido, e algumas perdas. Já gastei noites de sono demais remoendo o passado, culpando ausências, negociando com a solidão.
É tudo meio emo, meio deprê. E foi mesmo um dia assim — ainda que disfarçado sob pilhas de trabalho. Me ocupei com tarefas, voltei de ônibus pra casa, fui pra academia, cumpri os rituais da noite.
Depois de tudo, cheguei ao meu momento favorito do dia: deitar e ler um pouco. Tenho lido muita poesia. E por “poesia”, quero dizer: praticamente só leio Alejandra Pizarnik, minha autora do coração. Eu sei, talvez não ajude no clima melancólico... mas o coração tem lá suas vontades.
Não sigo uma ordem. Abro a antologia poética em uma página qualquer e deixo o acaso escolher por mim. Às vezes leio mais, às vezes menos.
Naquela noite, caiu o poema “Procurar”, que na minha edição está na página 149.
Na hora, minha cabeça voltou para dentro do carro, procurando um documento no porta-luvas. A conexão foi imediata. Eu já sabia que a Pizarnik era emo — mas caramba! O poema e a música pareciam parte do mesmo texto.
“Procurar. Não é um verbo, mas uma espécie de vertigem.”
“The glove compartment is inaccurately named / And everybody knows it...”
O desajuste da linguagem. Palavras que não dão conta do que carregam. Há deslocamento entre o nome e a função, entre a memória e o consolo que ela falha em oferecer.
“Não quer dizer ir ao encontro de alguém, mas jazer porque alguém não vem”.
“And here I rest where disappointment and regret collide / Lying awake at night”
Para Pizarnik, “procurar” não é movimento, é paralisia. Assim como para Gibbard, a cama não é descanso, mas território de arrependimento e decepção. Um lugar pra remoer, acordado.
Ambos constroem um microcosmo da perda: Pizarnik, mais abstrato; Gibbard, mais cotidiano. Poesia e música se tornam instrumentos não de consolo, mas de testemunho da ausência.
E assim fomos dormir.
#tristinha mas tá bom